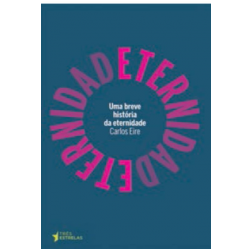O debate sobre as biografias tem a ver com a ideia da democracia que se deseja. A pergunta mais contundente da carta aberta de Benjamin Moser a Caetano Veloso, na Ilustrada desta quarta, soa a clichê surrado, mas há em certos clichês uma honestidade indiscutível: que país Caetano quer deixar para os seus filhos, considerada sua política de escrita de biografias?
Lido ao lado do americano Jon Lee Anderson n'O Globo, o também americano e biógrafo de Clarice Lispector fica ainda mais completo. Autor de "Che", Anderson afirma que "a sociedade não pode controlar [preventivamente] essa situação [entre a ética do biógrafo e a privacidade do biografado], especialmente quando ela tem relação com figuras políticas".
É natural que americanos ensinem essa posição: a Constituição deles é histórica defensora do direito à liberdade de expressão como coluna-mestra da democracia. Sem liberdade de expressão, não existe liberdade de religião, nem existe liberdade de informação; a liberdade de pensamento, mesmo que exista textualmente, já nasce com perspectivas diminuídas de desenvolvimento.
Por isso, não cabe aqui fazer qualquer paralelo com a invasão de privacidades perpetrada recentemente pelo governo dos Estados Unidos, que decidiu aproveitar brecha para ser inconstitucional, que está à margem de sua própria lei e que entrará para a história jogando lama em si mesmo. A belíssima agenda de liberdades que é a sua Constituição, pelo contrário, não se mancha.
(Aliás, a restrição à liberdade de expressão é prima-irmã do desacato à autoridade, esse subterfúgio que justifica muitas das prisões às quais Caetano aparentemente se opõe)
Voltando ao legado que a cúpula da MPB pretende, eis o principal risco que a democracia vive quando artistas abraçam o projeto obscurantista do Procure Saber: que as figuras políticas se apropriem das prerrogativas estabelecidas pelos artistas escaldados pelo jornalismo de celebridades; a partir disso, esses políticos conseguiriam restringir ao máximo os dados de interesse público em suas biografias.
Na verdade, já conseguem, manejando abuso de poder econômico e advogados caros perante juízes lenientes com base em leis de cunho ditatorial ou interpretações inconstitucionais. Os exemplos são variados e vergonhosamente recentes.
Por isso é imperdoável a inocência útil – na melhor das hipóteses – de tantos artistas censurados durante a ditadura.
O artigo 5º, inciso X da Constituição Federal, citado por Francisco Bosco em "O Globo", afirma claramente que são invioláveis a intimidade, a privacidade, a honra e a imagem das pessoas. Bosco, porém, não redige o restante do artigo: "assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação".
Ou seja: primeiro é preciso que alguém julgue de forma imparcial se houve a suposta violação, até para que não haja prejuízo ao artigo 220 da mesma Constituição, que garante a impossibilidade de censura prévia a qualquer manifestação de expressão. Não dá para expulsar o zagueiro antes que ele cometa a falta, por mais preciosas que sejam as pernas do atacante.
É esse mesmo Artigo 220 que torna anacrônicos os preceitos dos artigos 20 e 21 do Código Civil, que se referem à necessidade de autorização da pessoa pública a respeito de informação sua de interesse público. É desnecessário dizer que a censura seria ainda inconstitucional, mas, como o tempo é de analfabetos funcionais, então faço questão de sublinhar: a censura decorrente desses artigos é inconstitucional, como seria qualquer outra.
O texto do artigo 220 é tão claro, tão nítido e tão nacional em sua ausência de conjunções adversativas que não há por que pensar em quaisquer poréns que favoreçam censura, ou mesmo em necessidades de empréstimos de legislação estrangeira. É um parágrafo que deveria ser lido e relido por todo artista brasileiro, ao som do "Cálice" nas vozes de Chico Buarque e Milton Nascimento, outros dos que hoje emprestam seus nomes para os obscurantistas:
A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
§ 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
Lidos esses trechos, fica claro que este debate é um Chico dando novos significados a "A Voz do Dono e o Dono da Voz", é um Caetano não entendendo nada do Caetano de "É Proibido Proibir", é a coronelização da Música Popular Burocrata, que passou procuração às noções de cultura de Paula Lavigne a fim de um troco a mais, sem se importar com tudo que ainda precisamos procurar saber.
Deixo ainda a Francisco Bosco, pessoa da minha mais alta consideração, alguns questionamentos.
Você realmente acredita em si quando diz que a vida pública é totalmente dissociável da vida privada? Crê realmente ser possível, numa biografia de artista ou político, podar os fatos íntimos que formam a personalidade do autor, de suas obras e de seus feitos?
Eu não acredito numa biografia de Mahler que não cite a disfunção erétil dele e os adultérios de Alma. Não acredito numa biografia de Hannah Arendt sem mencionar sua relação com Heidegger. Não acredito numa biografia de Gilberto Gil que não esboce os eventos que levaram à composição de "Drão". Não acredito numa biografia de João Bosco que não conte a cisão pública e amplamente noticiada da parceria com Aldir Blanc, que inviabilizou temporariamente uma produção que o Brasil aprendeu a apreciar como um dos triunfos da MPB. São fatos tão inequivocamente refletidos nas produções artísticas dos supracitados que chega a ser dever contá-los.
Nada desses eventos precisa de detalhes sórdidos, descrições naturalistas ou falas inventadas – não é desse jornalismo de celebridades que precisamos nas biografias que ainda não foram escritas. O que é necessário é acreditar na hipótese não rara do biógrafo ético, como Ruy Castro, Mario Magalhães, Lira Neto, Benjamin Moser e tantos outros. Acreditar nisso tanto para a política, que nos permite analisar nossa história, quanto para as artes, que nos fazem senti-la. Acreditar no bem em potencial que isso lega à cultura brasileira, hoje em franco processo de esvaziamento de significados quanto de infantilização (compare as letras que cantamos nos sucessos de hoje). Há uma história de ideais a serem resgatados, nem que seja para lamentar o tempo perdido. No mínimo, o direito a essa memória tem que ser legado às gerações que nascem num momento artístico cada vez mais pródigo em sacolejos e avesso a maiores significados.
Em tempo: ninguém impede os artistas de escreverem suas autobiografias ou de patrocinarem relatos autorizados visando lucro. Que eles ditem suas memórias com carinho, peçam indenização quando acharem que devem e abram mão da coroa absolutista que, depois de tantos anos prestados à democracia, eles hoje creem merecer.
Em tempo 2: eu gostaria de ver isto discutido entre as bandeiras alçadas na Feira de Frankfurt, se os escritores, que fizeram discursos políticos elogiáveis, ainda tiverem espaço para debater cultura brasileira.